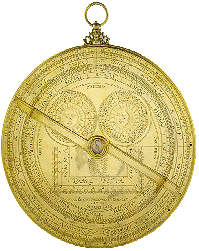
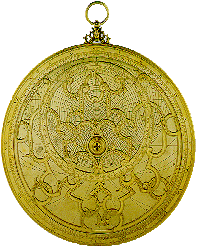
Astrolábio planiférico de Nicol Patenal 1616 (frente e verso)
(Museu da Marinha)
O astrolábio é um antigo instrumento para medir a altura dos astros acima do horizonte. Atribui-se a Hiparco, o pai da astronomia e trigonometria, a sua invenção. Ptolomeu designa por astrolábio a esfera armilar, que os árabes combinaram com o globo celeste e aperfeiçoaram criando assim o astrolábio esférico. Aqui referimo-nos ao astrolábio planisférico, uma simplificação que resulta numa projecção estereográfica polar da esfera celeste sobre um plano. Os gregos já o conheciam mas foi através dos árabes, que o introduziram na Península Ibérica, que chegou à Europa.
O instrumento era composto por um disco graduado, a madre, onde se achavam colocadas várias lâminas circulares. Essas lâminas eram também graduadas à superfície das suas margens, permitindo através da alidade determinar a altura de qualquer astro. A alidade girava em torno do centro comum da madre e de todas as lâminas. Cada uma das lâminas ou discos servia para uma determinada latitude. No séc.XI, Zarquial, um árabe da Península Ibérica, idealizou um astrolábio universal com uma só lâmina e que servia para qualquer lugar. Com o astrolábio plano resolviam-se problemas geométricos, como calcular a altura de um edifício ou a profundidade de um poço.
Era também usado em astrologia. O astrolábio náutico foi a simplificação do planisférico e tinha apenas a possibilidade de medir a altura dos astros. Inicialmente tinham a configuração da face posterior dos planisféricos. No entanto e com a experiência dos pilotos ganhou nova forma. Deixou de ser fabricado em chapa de metal ou madeira e passou a fundir-se em liga de cobre de modo a que o seu peso, cerca de dois quilos, o sujeitasse menos ao balanço do navio. O disco inicial foi parcialmente aberto para diminuir a resistência ao vento. A forma definitiva do astrolábio náutico fixa-se assim numa roda, de 15 a 20 cm., com dois diâmetros ortogonais no centro da qual gira a medeclina. Esta alidade dispõe de duas pínulas com orifícios através dos quais se visava o astro. Num dos extremos da medeclina é interceptada uma escala de 0 a 90º gravada nos quadrantes superiores da roda.
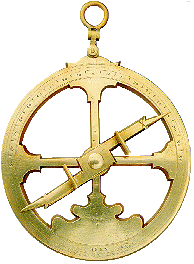
Astrolábio Dundee 1555
(Dundee, Art Galleries and Museums)
Para tomar a altura de um astro suspendia-se a roda na vertical pelo anel de suspensão, movendo-se a medeclina até que o feixe luminoso do sol atravessasse simultaneamente os dois orifícios das pínulas. A observação directa do sol não é possível sem danos para a vista pelo que se colocava, num plano inferior, um papel que assinalasse o feixe luminoso. Alguns minutos antes do meio-dia movia-se a mediclina no sentido ascendente até que, ao meio-dia solar, e num breve momento, a mediclina conservava-se estacionária para em seguida mover-se no sentido inverso. Pela maneira de como se efectuava esta operação era conhecida pelas gentes do mar como «pesar o sol». A leitura da escala, interceptada então pela medeclina, indicava a altura meridiana do sol que complementada com a consulta das tabelas de declinação do sol permitia calcular a latitude do lugar.
O Almirante Gago Coutinho é de opinião que o astrolábio apenas servia para medir a altura do Sol e, numa travessia Atlântica a bordo da barca Foz do Douro, demonstrou experimentalmente a impossibilidade de, em boas condições, se visarem estrelas a bordo com um astrolábio.
Nos primeiros tempos o zero da graduação encontrava-se na horizontal do quadrante mas no séc.XV o sentido da escala foi invertido agora com o zero na vertical do quadrante. Obtinha-se assim directamente na escala a distância zenital (complemento da altura) do astro suprimindo uma operação no cálculo da latitude, sempre complicado para os pilotos da época. Para o hemisfério Norte a fórmula da latitude é lat = (90º - h) + d o que simpificado dá lat = z + d (h-alt. do astro, d-declinação, z-dist.zenital).
Muitos exemplares espalhados pelo mundo foram fabricados em Portugal e exibem o nome ou as marcas do seu fabricante, como Agostinho de Gois Raposo, Francisco Gois e João Dias. Poucos astrolábios náuticos chegaram até aos nossos dias mas com o desenvolvimento da arqueologia subaquática foi possível recuperar mais exemplares. O número ascende agora a cerca de 80 e são mundialmente registados no Museu Marítimo de Greenwich. Além de um número de registo passaram também a serem conhecidos por um nome, normalmente relacionado com o navio ou o local onde foram encontrados.
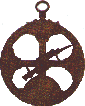 |
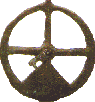 |
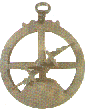 |
 |
 |
||||
|
Sacramento (1650) |
Santiago (1575) |
Atocha III (1605) |
Atocha IV (1616) |
Ericeira (1600) |
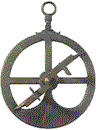 |
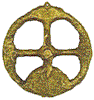 |
 |
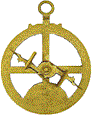 |
|||
|
Aveiro (1575) |
S.Julião da Barra 1 |
S.Julião da Barra 2 |
S.Julião da Barra 3 (1606) |





